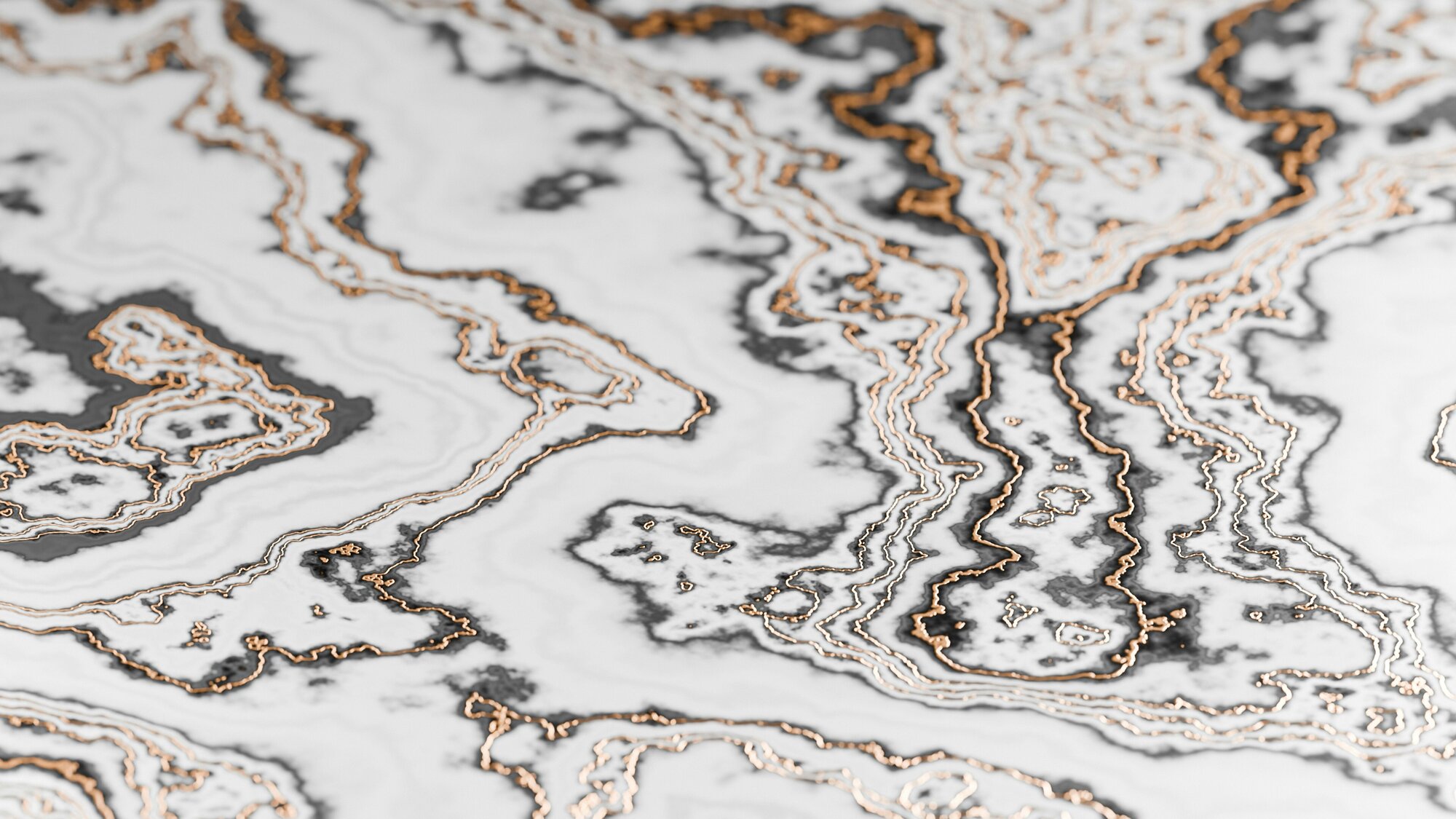A cidade contínua. Como seria andar nesse lugar sem dono onde, em vez de terem nomes, as ruas se abriam umas atrás das outras, sem fim à vista? Regresso. E esqueci-me de todos os outros começos. Estou de novo diante de quem fui e aberta ao que se segue. Deixar de ter medo de viver. Viver para escrever.
Procuro casas, sabes o que procuro? Procuro a minha cara, depois de atravessar a floresta azul. Sei que só tu me podes dizer com quem me pareço. Sei que a minha cara é uma questão do vento com os teus cabelos. Procuro casas, sabes o que procuro? Uma cidade sem arruamentos: a cara sem medo do futuro de que me falas, aquele onde me penteias à janela e me adormeces com histórias que são minhas, mas que me esqueci de as ter escrito. Aí, já não somos nunca mais sem pais para sempre, nem conhecemos a bruma das febres que a dor traz consigo. Seremos de novo crianças e tu brincarás com o meu corpo e eu brincarei contigo, como amantes prometidos um ao outro desde o berço. Ainda acredito nas águas ao longe, à janela, e nós ali, escrevendo, lembrando a avó que tinha medo de ficar bronzeada.
Como é espantoso que ainda reste em mim a força dessa tua fotografia.
Neste momento, o futuro é essa vista até ao Bugio e, além, até ao Cabo Espichel. A ondulação na barra, como uma cavalaria de cavalos brancos.
Sofrer tanto que nos esquecemos do que é o sofrimento, e só podemos viver de tanto rir e de tanto beber água com gelo.
Procuro casas, sabes o que procuro? Procuro a tua cara contra a noite, as nossas duas rolas no pinheiro da frente, saber de novo o lugar de tudo, arrumar os panos brancos, lavar o enxoval, deixar o cão crescer, enquanto dançamos um com o outro noite fora, meu amor, nós que vimos a morte de frente, nós que tivemos a aranha enterrada no coração e a arrancámos do nosso coração, sabes o que procuro? Procuro uma casa para o teu hálito, o teu pescoço ao lado do meu, mil e uma maneiras de te fazer feliz, sabes?
Queria escrever-te um dicionário liliputiano, inventar uma língua inteira para os nossos dias, que coubesse na palma da tua mão e só nós entendêssemos. E depois penso que é só isso que vimos fazendo, esse pequeno dicionário de bonecas, a língua dos meninos que fomos. Nada é tão perigoso como um adulto.
Contaste-me que sonhaste que o diabo já tinha chegado, estes são os tempos do diabo, a América e a Rússia, a convulsão por todo o lado, cheias, inundações, uma lista de tristezas tremendas a caminho da esperança, enquanto procuro casas, sabes o que procuro?, a lista de pessoas a despejar, trazida pelo funcionário camarário, Anizete dos Santos Rego, Euclides da Costa, Patrocínio Vaz, Vera Cacilda de Sousa, Ana Paula Maciel, uma mulher com os filhos às costas, a erguer uma barraca na encosta da ponte 25 de Abril, vão ao Leroy Merlin comprar cimento e tijolos, ou é um primo que traz?, como são as noites de granizo?, fazemos pouco, deste lado do mundo, dos alertas meteorológicos exagerados, mas o mais singelo aguaceiro inunda, em Penajóia, o quarto dos miúdos, procuro casa, sabes o que procuro?, senhoras no comboio, a cabeça encostada à janela, lembram-me a avó Ana Helena, uma lista só de coisas tão medonhas que são belas, as casinhas dispersas na correnteza da linha de comboio, onde a vida é branda e triste, porque é Portugal tão feio, meu amor?
Cacilda chega a casa, tem de fazer o almoço, mas não há comida. tem de dormir, mas não há cama, falar de Portugal como quem conta uma história primeiro triste depois funesta, procuro casa, sabes o que procuro? Um mundo contra este mundo, fui de Lisboa a Nova Iorque e regresso. O que aprendi? Aprendi o que é uma tempestade.
Depois regressei, e perdi-me de ti nas ruas de Lisboa, cada vez que me lembro quão estranho me foste nesses dias, quão estranho me foi o mundo, mais penso que seguia de mão dada com Martinho, naqueles dias de tempestade, e todas as visões do inferno se conciliam no momento em que te reconheci de novo, no momento em que soube de novo quem eras, e foram precisos muitos dias, e foi preciso que fosse muito aos poucos, irmos beber café todas as manhãs, reconhecer em ti um namorado e um objecto de desejo de novo, saber de novo quem eras, e que eras o meu marido, ainda que as árvores, os reclames, as matrículas dos carros, o alfabeto da cidade, ainda me iludisse em frases surdas, que só eu ouvia, foi preciso chávena a chávena de café, cigarro a cigarro, beber o amor dos teus olhos, para que o diabo se calasse.
Levaste-me à feira da ladra, nesses dias belos de fim de verão em que por instantes fomos solteiros e só amigos, e encontrei uma imagem de São Martinho de Porres, um santo negro, com uma malga de leite aos pés, de onde bebem um cão, um gato e um pato, como se diz que acontecia no mosteiro, porque Martinho chamava a si todas as criaturas. Pus o santinho na mesa de cabeceira, rezei-lhe todas as noites por te ter de volta, e era já Martinho quem me curava, tenho a certeza, fazendo-me desfazer a casa da doença e pedir pela minha saúde, era Martinho, o médico de Lima, quem me levava pela mão até aos teus braços, ajudando-me a reconhecer-te e a reconhecer-me, depois de um ano inteiro a navegar no barco dos loucos, sabes, meu amor, desta vez estive quase a não regressar, foi o que me disseram na clínica, acordei para este mundo sujo, este mundo porco, em que a nossa tara um pelo outro é um erro num cálculo, uma carta alheia ao baralho, e agora, que tudo já está arrumado, contemplo a casa em redor, quando sais para trabalhar e aqui fico, e penso que é Martinho quem guarda a nossa porta, procuro casas, sabes o que procuro? Uma capelinha para os nossos santos, uma esfera de benignidade, a verdade é que tem chovido a ponto de a barragem de Castelo de Bode estar quase cheia, tem caído uma chuvada sobre o ano passado, água que baste para afundar o barco dos loucos, restámos eu e tu, à tona de água e, depois, em terra, secos e resolvidos, este não é o livro da nossa derrota, é o livro em que eu e tu viramos o barco dos loucos e o afundamos e vamos dali construir a nossa casa de novo na ilha, este é o livro do abraço da alegria, depois do pesadelo, o livro da mão dada a Martinho, em dias de depressão Martinho, porque quando chove é quando sinto a vida mais longe, separada de mim, por um biombo de chuva, tanta coisa para te contar, meu amor, ainda não te contei metade do que vi e me aconteceu, dos dias em que achei que os pássaros eram robôs, dos dias em que ainda não me conhecias, dos dias em que chorei ter perdido a nossa vida, e, depois, a alegria de nos curarmos ao lado um do outro, enquanto, lá fora, o mundo progride, medonho.
As nuvens que eram Beethoven e Bach, sobre a minha cabeça, e o homem cabo-verdiano, que se meteu comigo e me ofereceu uma gargantilha dourada, ao ver-me perdida na rua, sei que eras tu, Martinho, aquela ínfima válvula de segurança, ao longo desses dias, o que me fazia aguardar pelo sinal verde para atravessar a estrada, interromper conversas com estranhos, não me despir, não me atirar ao rio, quem se não tu, meu Martinho de Porres, que és o meu amor pelo meu Albano, quem se não tu, para me levares numa volta louca por Lisboa e me trazeres de volta com vida, imagina comigo, imaginar que não posso confiar em ninguém, e voltar disso tudo, Martinho, meu avô, pela tua mão, pedir-te pela minha saúde, por ter o meu marido de volta, por consertares a minha cabeça e os nossos corações, papá Martinho, que me salvaste da tempestade, como te retribuo seres agora o meu colo? Nos dias de temporal, o mundo é ainda mundo e o meu coração ainda bate.
Lembro-me de me dizeres que não procurasse casas, e eu via nisso o teu gesto contra aquilo a que eu chamava pomposamente o fim dos ciclos: acreditava que a vida era qualquer coisa que se sentia a mudar, como o vento muda de direcção, e que nada podíamos fazer para a travar. Mudar de casa era accionar essa mudança, mesmo que as mudanças fossem irrealistas ou idealistas. Voltar atrás, sim, mas para descobrir porventura que o ventre da minha mãe era o lugar mais aborrecido do mundo, regressar ao ninho primeiro, não, mas compor com o meu bico o meu próprio ninho, estar cara a cara com todos os momentos em que me senti segura, talvez busque isso, acima de tudo, a segurança contra a fealdade do mundo, contra a traição da cidade e da vida que vou levando, diz-me se não gostavas, Albano, de sentir que as paredes eram nossas, que as podíamos pintar, ou mandar abaixo à nossa vontade, uma casa nossa, para se, nos apetecesse a perdermos ao jogo, num rasgo de loucura, para a mandarmos abaixo, e arrastar uma geração na decadência, nossa como são os nossos braços e as nossas pernas, nossa como é a nossa cara, pomposamente, o fim dos ciclos, dizia eu, quando tudo o que queria de nós, era que estivéssemos sempre a recomeçar, como se abre e fecha um livro, que todo o mal ficasse para trás das nossas costas, nalguma casa velha a que não voltávamos mais, numa rua vedada à nossa entrada, procurar para sempre, como quem encontra nisso, finalmente, um sentido.
Imagem
Erwann Stephane